Aura e estética da guerra em Walter Benjamin
- Cinema • Colunistas • Filosofia • Marxismo
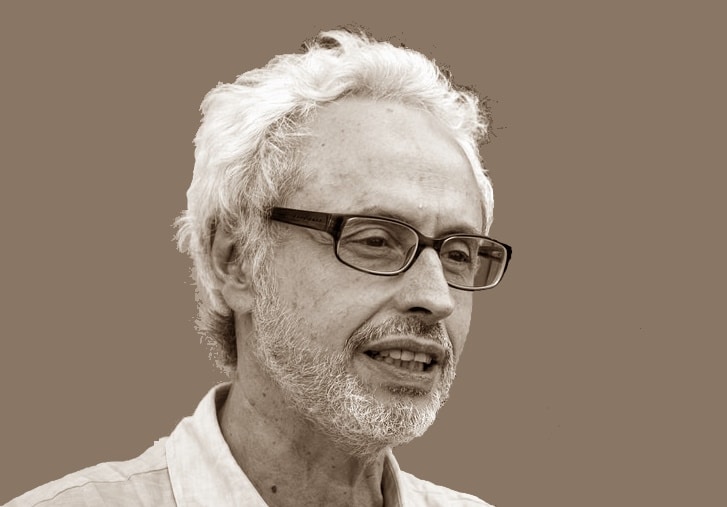
Por FERNÃO PESSOA RAMOS*
A “estética da guerra” em Benjamin não é apenas um diagnóstico sombrio do fascismo, mas um espelho inquietante de nossa própria era, onde a reprodutibilidade técnica da violência se normaliza em fluxos digitais. Se a aura outrora emanava a distância do sagrado, hoje ela se esvai na instantaneidade do espetáculo bélico, onde a contemplação da destruição se confunde com o consumo
1.
Há três estágios na composição da aura para Walter Benjamin, quando seu pensamento se aproxima do sequencialismo próprio ao historicismo do materialismo dialético.[i]
Eles correspondem, primeiro, à aura como emanação da coisa ou do ser na arte mitológica ou religiosa; depois, à aura do período burguês, a bela-aparência na qual a arte se libera da representação da divindade e do ritual, fechando sobre si o halo da presença estética na distância que traz a unidade do invólucro; e o terceiro momento, quando a questão da arte das massas ocupa o proscênio da aura diluindo a emanação da coisa no dispositivo tecnológico da reprodutibilidade, logo encampado pela mercadoria.
Neste último estágio é que ocorre o definhamento da experiência e o esgarçamento da aura, através do “desencantamento” que tanto fascina o pensamento contemporâneo.
Em geral, análises mais simples da reprodutibilidade tecnológica da imagem em Walter Benjamin tendem a se concentrar neste último aspecto (enquanto rarefação proporcionada pelo novo meio), deixando de lado a intensidade do que faz imanência na figuração da tomada-câmera do mundo, instância que tenciona positivamente a aura.
Tensão que afirma a oscilação da figura pela virtualidade que é própria, por exemplo, na intensidade ancorada da multiplicação da imagem da morte e da destruição, conforme constitui-se na contínua aceleração da reprodutibilidade das novas tecnologias digitais. Na realidade, na visão benjaminiana, o objeto artístico atinge o que nas massas pede consolo.
Elas surgem alienadas da antiga proximidade, perdida na reificação da aura, antes embutida na bela-aparência vazia. A fruição da penetração, pelo modo estético, no invólucro da unidade transcendental do ser, é apenas fetiche.
No terceiro estágio da dialética materialista (o da aura esgarçada pela mercadoria), o conceito de jogo descreve o modo de fruição que se adequa à experiência do choque e da fruição desatenta.
Essa fruição é algo que a espessura da aura perdida nega, embora no seu modo pobre de fruição-jogo, ou modo reificado, possa ser potencializado positivamente na arte de vanguarda (Walter Benjamin analisa os surrealistas nesta chave, por exemplo). Existe um movimento de atração e repulsão na aura que resulta de sua expulsão do universo social das massas.
Isto inclui tanto a função direta na realização do valor pelo fetiche da mercadoria (caráter negativo), como a impossibilidade da aura na experiência fugaz do jogo e do choque (caráter afirmativo), arquétipo de fruição estética inovadora. A arte de massas despreza, ou é indiferente, à unicidade que a aura exala, a não ser na crítica de sua recriação como fetiche.
2.
A nova arte das massas, portanto, traz deslocados elementos voltados para questões clássicas da estética (como a emergência da semelhança e a fenomenologia do belo), ou decai na recuperação da imitação, outro tema recorrente que agora incide numa obra de arte cuja originalidade perdida é a medida de seu estatuto de reprodução.
A questão do jogo como componente artístico surge igualmente no espaço da “enervação tecnológica”, conceito central na filosofia de Walter Benjamin. A fruição da obra de arte pelas massas através dos afetos do jogo, opondo-se à contemplação (e, portanto, à absorção na aura), pode aparecer negativamente enquanto reificação empobrecedora da experiência voltada a realização de valor.
Há, no entanto, a face positiva do jogo-de-corpo elemento que pode ser usado ativamente na vanguarda, rompendo demandas da estética romântica (Walter Benjamin mantém polêmica sobre esta positividade da fruição ligeira com seus colegas da futura Escola de Frankfurt).
A determinação negativa é própria à brincadeira, trazendo os afetos dominantes no jogo infantil, como no atual videogame, por exemplo, ou no suspense da montagem paralela – núcleo central na linguagem cinematográfica clássica. Manifesta-se na maneira do adiamento de um prazer que se lança na fruição do risco iminente, logo em seguida compensado, ou não, em sua resolução.
A série suspensa em paralelos simultâneos, própria da angústia da indeterminação na duração, é potencializada como prazer mimético correspondendo assim em proximidade aos afetos do jogo. Quando a obra de arte passa a gravitar mais fortemente em torno desse afeto provoca crítica e estranhamento.
Walter Benjamin oscila neste ponto, recuperando o jogo-de-corpo como fruição particular na arte moderna, mas logo o esquece e faz aparecer no horizonte o sol da reificação e os afetos captados pelo espetáculo fascista se encaixando por aí, em procedimentos de exaltação.
O mecanismo afetivo do jogo em torno da ansiedade é próprio de disputas esportivas (nascentes em sua época), ou de dispositivos de apostas e leilões (os quais Walter Benjamin gostava de frequentar), mas também central na estruturação da narrativa clássica cinematográfica, dos primórdios até a atualidade
A montagem paralela (o ‘enquanto isso’ do modo cinematográfico) talvez seja a principal composição narrativa desenvolvida pela história do cinema, sendo particular a essa arte [embora não exclusiva, como já notava Sergei Eisenstein em Dickens, Griffith e Nós (Eisenstein, 1990)]. A montagem paralela tem seu afeto característico na suspensão de um prazer adiado pela angústia, estruturada na simultaneidade da consequência narrativa.
Dilata assim, na repetida simultaneidade, a indeterminação da ação para obter o efeito catártico da recompensa final da resolução pelo encontro, ou reconhecimento. A questão do jogo aparece de modo crítico em vários escritos da geração de Walter Benjamin, embora abrindo-se eventualmente, como mencionamos, para seus efeitos positivos na arte moderna de vanguarda.
Encontramos um certo escândalo com a ampliação, na arte para as massas, do espaço que este tipo de prazer mimético ralo passa a ter, em oposição a fruição, mais gorda, de um quadro, ou a audição musical atenta.
3.
A última tese de A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica (o ensaio é estruturado em teses, ou capítulos), é intitulada, na primeira versão do texto, “Estética da Guerra” (Benjamin, 2013: 128). Nela, Walter Benjamin radicaliza a um ponto extremo sua visão da manipulação da aura pela cultura de massas do fascismo.
É o ponto de convergência no qual se sobrepõem o fetiche da aura extinta e a fruição desatenta (quando capturada pelos mecanismos de exaltação coletiva). Cria-se um eixo compensatório para a vida alienada que se encaixa na absorção social (“enervação”) da tecnológica capitalista deslocada, pela obra de arte. O afeto do transe fascista surge como exemplo.
Na medida em que o quadro político se torna mais premente durante a década de 1930, a espetacularização da política passa a responder como elemento central na composição que Walter Benjamin denomina “estética da guerra” ou, mais precisamente, “apoteose da guerra no fascismo” (Benjamin, 2013: 97), aprofundando sua análise nessa direção: “Todos os esforços para estetizar a política culminam em um ponto. Esse ponto é a guerra” (Benjamin, 2013: 97).
Depois de citar extensamente o manifesto do futurista fascista italiano Filippo Marinetti, que clama por uma estética na qual “a guerra é bela” (“esse manifesto tem a vantagem da nitidez”, nos diz Walter Benjamin com ironia amarga – o termo “estética da guerra” vem de Marinetti), Walter Benjamin parece recolher-se, em sua tese, a um ponto sombrio.
Nele a guerra surge como forma última da liberação tecnológica pelo extermínio, válvula de escape para relações sociais retrógadas face a forças produtivas cada vez mais avançadas, instauradas pelo capital para liberar valor. Bloqueada a evolução tecnológica das forças produtivas através da “distribuição da propriedade”, a guerra serve como escape de pressão para a liberação “antinatural dessas forças” (Benjamin, 2013: 98).
O fato da guerra ser válvula para esta eclosão “prova” que “a sociedade não estava madura o suficiente para transformar a técnica em seu órgão” (“enervá-la”) (Benjamin, 2013: 98).
Trata-se de análise que também deixa traços no último texto de Benjamin, Sobre o Conceito de História, redigido no início de 1940, sob a ascendência real (e não apenas alegórica) de uma máscara de gás pendurada na parede de seu apartamento (objeto, aparentemente, não raro na Paris da época). Walter Benjamin escreve que a máscara em seu quarto aparecia como “um perturbador duplo daquelas caveiras com as quais os estudiosos monges decoravam sua cela” (Eiland; Jennings, 2014: 636).
Órgão próprio à tecnologia da morte, ou dela derivado, a máscara de gás mostra a organicidade da tecnologia para morte para o valor, na transformação do que chama de “segunda técnica”, agora operando sobre a natureza com o fim da morte. Sua forma social é aquela da emergência dos afetos no modo da submissão exaltada do fascismo, agora necessária para fazer girar valor na instrumentalidade do armamento.
O desenvolvimento tecnológico aparece desvirtuado, não se importando, ou mesmo demandando, a eliminação do corpo-vida em novas tecnologias da morte que aderem sem percalços ao circuito da mercadoria.
4.
Na “iluminação” profana que chega pela aura existe, em Walter Benjamin, um ponto cego. Nele são sobrepostas camadas da nova enervação tecnológica do mundo moderno. Essa enervação, quando se exerce no encontro com a tecnologia da modernidade, é chamada de “segunda tecnologia”.
A primeira tecnologia resulta do encontro da técnica diretamente com a natureza para flexioná-la em resultados pragmáticos. Walter Benjamin define a primeira tecnologia dentro do plano da aparência-ritual que se orienta pelo “de uma vez por todas” ou “sacrilégio irreparável” (Benjamin, 2013: 65).
Refere-se à ação que dilata o instante pela técnica, ainda grudada no fluxo da duração, e que interage com o devir da natureza numa interferência tecnológica funcional de primeiro grau. A segunda tecnologia extrapola essa instância pela dimensão do jogo e a possibilidade da repetição infindável do teste, instaurando o que sinteticamente é definido como “uma vez é nenhuma vez” ou “procedimentos de teste” (Benjamin, 2013: 65).
A manipulação da nova individuação – modo de existência, pela experiência, em novos objetos tecnológicos (como a imagem-câmera e seu aparato maquínico) – permite o descolamento progressivo da segunda tecnologia da natureza. Ele, descolamento, é inaugurado na indeterminação radical da agência no jogo, e pela sucessividade aleatória do teste, liberado do gancho do transcorrer e da circunstância na necessidade.
A ideia das duas tecnologias (primeira e segunda) é forte e mantém vínculo com textos de juventude sobre o papel da linguagem como Sobre a Linguagem em Geral e Sobre a Linguagem do Homem (Benjamin, 2011), embora nas formulações de maturidade sinta-se o diálogo mais premente com o materialismo dialético.
A segunda tecnologia aparece também em formulação que a liga a revolução socialista, instaurando a liberdade não reificada do trabalho sobre o que chama, derivando, de uma “segunda natureza” liberada.
Na camada central está a questão da reprodução técnica, conceito que agrega o principal eixo de desenvolvimentos de A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. É a reprodução maquínica multiplicada pela segunda tecnologia que tenciona o cinema para a experiência rarefeita e a fruição desatenta que A Obra de Arte descreve.
5.
A “auto-alienação” da humanidade atinge seu grau extremo na “Estética da Guerra” e Walter Benjamin vai vivê-la em proximidade maior, sofrendo os efeitos na própria carne. Extrapolada na direção da morte, a mediação da segunda tecnologia adquire potência para permear a sociedade em todos seus poros, inclusive naqueles em que o gênio mimético é enervado como uma espécie de Leviatã onipresente.
É assim que se ergue na mimesis, ou na cena da tomada-câmera do modo fílmico, objeto central do ensaio A Obra de Arte. Walter Benjamin percebe surpreso que “se torna possível vivenciar sua própria aniquilação como deleite estético de primeira ordem” (Benjamin, 2013: 99), na intensidade original da tomada multiplicada e agora macabramente fruída.
O deleite estético na contemplação da morte e da auto-aniquilação (Benjamin o compara, saudoso, com o deleite na contemplação da humanidade pelos deuses olímpicos) é frase premonitória que, do inverno de 1940, se aproxima de nossa contemporaneidade, aparentemente também sem receios da barbárie da morte e da guerra total.
A necropolítica como derivação extrema da biopolítica foucaultiana (Mbembe, 2018) hoje encontra-se enervada tecnologicamente, por assim dizer, nos circuitos do maquinismo-câmera da tomada que proliferam nas redes sociais liberando, na emergência do dispositivo reflexo de câmeras multiplicadas, efeitos semelhantes ao espetáculo fascista, só que agora em escala planetária.
Encontra-se, em nossa época, ou era (a “era da reprodutibilidade tecnológica”), a repercussão dessa auto-contemplação denegrida da humanidade, permeada pelo horror do armamento multiplicado e do extermínio humano e material, que parece ser natural ao planejamento na realização do valor (como bem o apresenta, presciente, o cineasta alemão Harum Farocki no documentário Imagens do Mundo e Inscrições da Guerra/1987).
A representação sonora-imagética, hoje onipresente, do maquinismo-câmera em sua reprodutibilidade desatada nas redes sociais, compõe esta série. Tomadas-câmeras surgem carregadas por uma verdadeira estética da aniquilação pela guerra, agora corriqueiras ou ‘quaisquer’. São carregadas na indiferença ou na exaltação por afetos de manada, agregados como modo de individuação na reprodução tecnológica do maquinismo “enervado” em cada corpo, em cada mão, e pelas redes.
A aura enervada pela individuação tecnológica é sujeita à experiência da “insurgência da técnica que cobra em material humano” aquilo que lhe foi negado pela via do desenvolvimento social. E é aqui que Walter Benjamin localiza, através de uma de suas frases cortantes, o último reduto da aura extinta no mundo de reprodutibilidade tecnológica da imagem-câmera: “e na guerra química, ela (a guerra imperialista) tem um novo meio para extirpar a aura” (Benjamin, 2013: 99).
Qual significado da última tese de A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica quando aponta para tecnologia da guerra como derradeira mercadoria que extirpa a aura? Além de ilustrar a guinada final em seu pensamento face ao horror fascista, esses saltos súbitos do método benjaminiano, com os quais condensa formulações em figuras alegóricas, são como raios firmes em céu azul cambiante (o saturnino, longo Benjamin, agora, em 1940, tem de levantar os olhos). Apresentam, juntamente à extinção da aura, a radicalização da ideia de reificação que deixa de girar no trabalho pela vida, pois agora guerra, e se realiza neste avant-scène da necropolítica. É o valor da morte no tipo mais ignóbil de divisão social do trabalho, aquele do extermínio pelo aparato químico tecnológico.
Expoente na realização de valor pela reprodutibilidade da mercadoria, a guerra imperialista compõe, para Walter Benjamin, cenário no qual a aura (sua amada aura) é finalmente extinta e descrita através de um termo sobredeterminado como “extirpar”.
Não mais o fim da bela-aparência romântica deslocada em direção ao valor (segundo estágio ‘burguês’ da aura); não mais o esvaziamento das emanações dos ícones e dos mitos das origens; nem mais a aura do “maravilhamento”, tão benjaminiano, com a micrologia das coisas no inconsciente ótico; nem a fruição desatenta do jogo como mercadoria cultural; mas, agora, aura perfurada, estourando de vez, pelo valor da morte, a concha de seu invólucro de coisa-em-si imanente.
É uma espécie de ponto final nas oscilações que percorrem a obra de Walter Benjamin (Hansen, 2008), como atração e repulsão em torno da noção de aura. De lá (da morte) ela, aura, não retorna, nem ao menos para o deleite na auto-aniquilação pois já é, desde agora, atravessada na mistura da arma química que a dissolveu pela vida.
Aqui, a emanação aurática da proximidade pela distância não consegue mais fundar-se na beirada da antiga separação que ainda acreditava poder lançar-se pelo de-fora da arte. Acaba por sucumbir na própria alteridade, absoluta por não mais se alcançar vivo.
6.
Ao poder se efetivar pela terra arrasada, o capital em seu novo giro qualitativo de aceleração máxima liberada sem peias, conforma-se no que foi chamado de brutalismo (Mbembe, 2021). Nessa forma, a extrema unção, aplicada com naturalidade sobre o corpo morto, definitivamente serve à lógica do valor.
Rivieras imobiliárias levantadas sobre campos de morte, cidades fantasmas completamente aniquiladas em ruínas, ruas de escombros e concretos retorcidos, esqueletos de prédios em Gaza, no Iraque, na Síria, na Ucrânia, fazem circular em rede uma nova imagem da tipologia-câmera reflexa.
O acúmulo desenfreado dos restos de concreto e ferro, a multiplicação de detritos ambientais, o entulho químico, a substância plástica cobrindo oceanos, são desajustes na proliferação tecnológica da abundância desse ritmo frenético, deslocado da necessidade determinada num modo comunitário distributivo de produção.
O deleite, ou a indiferença, na destruição da guerra, se encaixa enquanto demanda de renovação da mercadoria que se empilha velozmente como lixo. A transformação em valor ainda parece precisar de corpos vivos, mas, ao proliferar pela imitação virtual, os faz cada vez mais dispensáveis. A novidade agora é a possibilidade de se gerar valor na linha da experiência da morte e o fato que esta posição seja a mais produtiva para a nova biopolítica.
A “nonchalange”com que a extrema direita, e outros setores da sociedade, lida com a banalização da morte e a destruição nas guerras do século XXI (ou na pandemia), mostra claramente o horizonte do valor nas formas do capitalismo avançado ou em suas derivações oligárquicas.
No final de sua vida, ao escrever a ‘Estética da Guerra’ como tese final de A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, Walter Benjamin antevê o hálito quente do que seria o chão de fábrica nas linhas de montagem industriais fincadas ao redor dos campos de concentração nazistas. Nos dias de hoje, a Palestina, e em particular o território de Gaza, serve de base, como tipo, para a emergência desses territórios cercados nos quais a morte e o tiro ao alvo em seres humanos (lembranças de Bacurau/2019)estão liberados.
Um novo tipo de campo de extermínio emerge (com ponta de ironia histórica), servindo à razão do valor no modo da aniquilação, através do qual a reprodução das mercadorias instaura seu atual estágio tecnológico.
*Fernão Pessoa Ramos é professor titular do Instituto de Artes da UNICAMP. Autor, entre outros livros, de A Imagem-Câmera (Papirus). [https://amzn.to/43yKnWf]
Referências
Benjamin, Walter. (2011). Sobre a Linguagem em Geral e Sobre a Linguagem do Homem.In: Escritos Sobre Mito e Linguagem (1915-1921). Organização: Gagnebin, Jeanne Marie.Tradução: Susana Kampff Lages e Ernani Chaves. São Paulo: Editora 34/Duas Cidades.
Benjamin, Walter. (2013). A Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Tradução: Gabriel Valladão Silva. Organização, prefácio e notas: Seligmann-Silva, Márcio. Porto Alegre: L&PM.
Eiland, Howard; Jennings, Michael W. (2014). Walter Benjamin: A Critical Life. Cambridge: Harvard University Press.
Eisenstein, Sergei. (1990). Dickens, Griffith e Nós. In: A Forma do Filme. Tradução Teresa Ottoni. Rio de Janeiro: Zahar.
Hansen, Miriam Bratu. (2008). Benjamin’s Aura. Critical Inquiry, v. 34, n. 2, pp. 336-375.
Mbembe, Achille. (2018). Necropolítica: biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. Tradução: Renata Santini. São Paulo: N-1 Edições.
Mbembe, Achille. (2021). Brutalismo. Tradução Sebastião Nascimento. São Paulo: N-1 Edições.



Nenhum comentário:
Postar um comentário